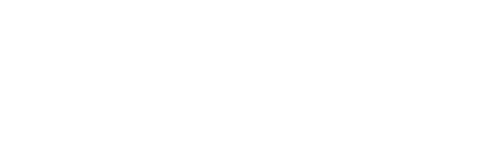Os casos de febre do oropouche aumentaram quase 200 vezes em 2024 em relação aos últimos 10 anos. Dados preliminares publicados por pesquisadores brasileiros mostram que o patógeno passou por alterações que o tornaram mais agressivo, contribuindo para o ressurgimento da doença no Brasil de 2023 a 2024.
A atual epidemia é causada por uma nova variante do arbovírus OROV capaz de se replicar até 100 vezes mais que a original e de evadir parte da resposta imune.
As conclusões são de um estudo divulgado em versão pre-print (artigo sem revisão por pares) no repositório medRxiv. Eis a íntegra do estudo (PDF – 409 kB, em inglês).
A febre do oropouche faz parte do rol de doenças negligenciadas, como a malária e outras arboviroses, como a dengue. É transmitida por moscas hematófogas da espécie Culicoides paraensis e causa dor de cabeça, artralgia, mialgia, náusea, vômito, calafrios e fotofobia, mas também pode levar a complicações mais graves, como hemorragia, meningite e meningoencefalite.
Apesar de documentada na América do Sul desde a década de 1950, a doença apresentou um aumento substancial de casos entre novembro de 2023 e junho de 2024 no Brasil, na Bolívia, na Colômbia e no Peru. Em território nacional, foram detectadas infecções autóctones em áreas anteriormente não endêmicas nas 5 regiões, com casos relatados em 21 unidades federativas, e aumento de quase 200 vezes na incidência em comparação com a última década.
Para investigar os fatores virológicos por trás desse ressurgimento, pesquisadores da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), USP (Universidade de São Paulo), Ufam (Universidade Federal do Amazonas), Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e das universidades do Kentucky e do Texas (Estados Unidos) e do Imperial College London (Reino Unido) combinaram dados genômicos, moleculares e sorológicos de OROV do período de 1º de janeiro de 2015 a 29 de junho de 2024, além de caracterização in vitro e in vivo, em um estudo financiado pela Fapesp.
O 1º passo foi testar por PCR um grupo de 93 pacientes do Amazonas com doença febril não identificada e negativos para malária, de dezembro de 2023 a maio de 2024. O resultado foi positivo para OROV em 10,8% dos casos e, posteriormente, foi isolado o soro de 7 pacientes em culturas de células.
Em seguida, esses isolados foram usados para avaliar a capacidade replicativa em diferentes células –de primatas e humanos– sempre em comparação com um isolado antigo de OROV. Por fim, foi avaliada a capacidade de ambos os vírus serem neutralizados por anticorpos presentes no soro de camundongos previamente infectados com o OROV e de humanos convalescentes para linhagens anteriores, infectados até 2016. Para isso, foi feito um teste de neutralização por redução de placas, que mede a redução do número de partículas virais viáveis formadas depois da incubação com diferentes diluições do soro dos pacientes ou de camundongos.
“Percebemos que o novo OROV apresenta replicação aproximadamente 100 vezes maior em comparação com o protótipo”, explica Gabriel Scachetti, pesquisador do Leve (Laboratório de Estudos de Vírus Emergentes) da Unicamp e um dos autores do estudo. “Além disso, produziu 1,7 vez mais placas, de tamanhos 2,5 vezes maiores, um indício de maior virulência”, afirma.
“Também infectamos camundongos com as duas cepas e vimos que o vírus antigo não protege contra o novo. A redução na capacidade de neutralização foi de pelo menos 32 vezes”, declara Julia Forato, também autora e pesquisadora do Leve.
“Além de traçar um panorama da epidemia de oropouche, o trabalho apresenta possíveis explicações para o aumento no número de casos, servindo de base para ações de controle epidemiológico”, afirma José Luiz Proença Módena, professor do IB-Unicamp (Instituto de Biologia da Unicamp), líder do Leve e um dos coordenadores do estudo.
“Se o novo vírus escapa da proteção em áreas com alta soroprevalência, há maior probabilidade de infecções e transmissão, inclusive com disseminação para outras regiões do Brasil, portanto precisamos confirmar e monitorar casos positivos e lançar mão de ferramentas para diminuir o risco de transmissão”, afirma.
Segundo o pesquisador, “essa epidemia está longe de acabar e tem potencial de causar estragos em áreas onde não havia qualquer circulação do vírus”.
Com informações da Agência Fapesp.